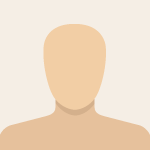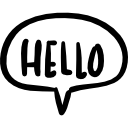Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- RESUMO DIREITO EMPRESARIAL – 3ª AVALIAÇÃO
- SOCIEDADES COMERCIAIS
- Definição (art. 981, CC ): somente são sociedades comerciais as sociedades mercantis e cooperativas.
- Trecho da doutrina que resume (Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado):
- 1. Correspondência legislativa (parcial). CC/1917 1363 e CCom 287
- 2. Contrato de sociedade. O contrato de sociedade prevê a atividade econômica e a partilha de resultados.
- 3. Sociedade e associação. As associações não se formam por contrato. Prescreve o CC 53: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. A sociedade se forma por contrato plurilateral. Na sociedade os sócios se obrigam reciprocamente (CC 981, caput), o que não acontece na hipótese de associação, por expressa disposição legal (CC 53 par.ún).
- 4. Nome empresarial. A firma [Nome do Titular ou Sócios] ou denominação [Atividade Prevista no Objeto Social da Empresa] adotada, de conformidade com este Livro II da Parte Especial, Título IV, Capítulo II, para o exercício de empresa (CC 1155 e par.ún). V., também, CC 16.
- 5. Classificação das sociedades.
- I. Quanto à personificação: A) sociedades não personificadas (aquelas que não têm personalidade jurídica): a) sociedade em comum (CC 986 a 990): são as que não têm seu ato constitutivo arquivado no Registro Público competente. São as antigas sociedades irregulares ou de fato; b) sociedades em conta de participação: o contrato social só produz efeitos em relação aos sócios e sua inscrição em qualquer registro público não lhe confere personalidade jurídica (CC 991 a 996); B) sociedades personificadas (aquelas que adquirem personalidade jurídica com a inscrição no registro público de seus atos constitutivos): a) sociedade simples (CC 997 a 1038); b) sociedade em nome coletivo (CC 1039 a 1044); c) sociedade em comandita simples (CC 1045 a 1051); d) sociedade limitada (CC 1052 a 1087); e) sociedade anônima (CC 1088 a 1089 e LSA); f) sociedade em comandita por ações (CC 1090 e 1092 e LSA).
- II. Quanto à atividade ou objetivo: A) sociedade simples (CC 997 a 1038): são aquelas que exercem, por exemplo, atividade de prestação de serviços intelectuais de natureza científica, artística ou literária. Tais atividades não são elementos de empresa (ex.: sociedade de advogados, médicos, engenheiros etc.); a) sociedade simples (espécie): CC 997 a 1038; b) sociedade cooperativa: CC 982, par.ún.:; c) sociedades rurais (que não exercem a faculdade do CC 984); B) sociedades empresária: são aquelas que têm por objeto social o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro (CC 982), isto é, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços (CC 982, 966, 967, 985): a) sociedade em nome coletivo; b) sociedade em comandita simples; c) sociedade limitada; d) sociedade anônima; e) sociedade em comandita por ações
- Modelos societários: diferenças entre sociedades nos Códigos Civis de 1916 e 2002 e em Leis Especiais:
- Código Civil 1916 Código Civil 2002
- Comandita simples Mantida
- Conta de participação Mantida
- Em nome coletivo Mantida
- De capital e indústria Extinta
- Leis Especiais Leis Especiais
- D. 3708/1919. Responsabilidade limitada Mantida
- Lei 6404/76. Sociedades Anônimas Mantida
- Subsidiariedade:
- I. Se a controvérsia surgida for em relação a sociedades em comandita simples, por conta de participação e em nome coletivo, não havendo solução no CC, aplica-se subsidiariamente a Lei de Sociedade Anônimas (assim como para comantida por ações). Nesse caso, as leis especiais são subsidiárias à lei geral (Código Civil de 2002). Isso é assim porque a matéria de sociedades comerciais no Código Civil é oriunda do Código Comercial de 1850.
- II. Se a controvérsia surgida for em relação a responsabilidade limitada, aplica-se subsidiariamente a Lei de Sociedade Anônima.
- III. Se a controvérsia surgida for em relação a Sociedade Anônima (lei especial), aplica-se subsidiariamente o Código Civil (lei geral).
- Elementos do contrato societário:
- I. Introdução: todas as relações da sociedade são intersociais, isto é, entre os sócios. Em regra, não existe sociedade de um só (exceção: sociedade unipessoal em sociedade anônima; ex.: um único indivíduo adquire todas as ações da empresa).
- II. Elementos: a) Agente capaz; b) Objeto lícito: atuação dentro da estrita legalidade; c) Forma prescrita ou não defesa em lei
- Contribuição dos sócios para formação do capital social (art. 1004, CC ):
- I. As sociedades de comandita simples, em conta de participação e em nome coletivo são sociedades mercantis de pessoas; enquanto que as sociedades de responsabilidade limitada e sociedades anônimas são sociedades mercantis de capitais.
- I.1. Ou seja, nas três primeiras não se fala em “capital social”, mas “patrimônio social”. Ademais, nas deliberações sociais o peso dos votos é igualitário, “por cabeça”.
- I.2. Na sociedade por responsabilidade limitada faz-se o aporte de capital: cada sócio deposita sua contribuição para formação do capital da empresa em conta bancária vinculada à empresa, como requisito para constituição da mesma na Junta Comercial.
- II. A participação dos sócios nos lucros e prejuízos, sendo regular a inclusão de cláusulas leoninas ou condições potestativas.
- II.1. Clausulas leoninas são aquelas que fornecem uma vantagem exagerada a um dos sócios.
- O Oficial da Junta Comercial tem por obrigação analisar uma série de requisitos, e a existência de clausula leonina não constitui requisito negativo. Os sócios, presume-se, formulam o contrato em pleno acordo.
- II.2. Condições potestativas: estabelecer que só um ou alguns sócios podem praticar alguns atos, tais como fazer investimento de capital, alterar o nome da sociedade, dar cheques, contratar funcionários, etc.
- É diferente de sócio gerente ou administrador.
- III. “Affectio societatis”: é o alinhamento de esforços despendidos por cada sócio pelo objetivo comum da sociedade.
- Entes associativos
- I. Associações;
- II. Sociedades simples (art. 986, CC ): antigas sociedades civis;
- III. Sociedades mercantis;
- IV. Cooperativas.
- Requisitos legais (art. 997, CC ):
- I. Conforme o tipo de sociedade:
- I.1. Sociedade em nome coletivo: só pode ser constituída a base de pessoas naturais, não podendo existir qualquer pessoa jurídica em seu quadro social.
- I.2. Sociedade por conta de participação: ostensivo e não ostensivo.
- I.3. Sociedade em comandita simples: capitalista e o executivo (somente este responde solidariamente).
- I.4. Responsabilidade limitada: obrigatória a integralização do capital.
- I.5. Sociedade anônima: patrimônio social.
- I.6. Sociedade anônima em comandita: patrimônio social.
- II. Nem todas as sociedades mercantis são constituídas por contrato escrito.
- II.1. Hipótese do art. 991, CC, conforme o art. 992, CC .
- II.2. Acionista de Sociedade Anônima.
- III. Instrumento Público e Particular:
- III.1. O instrumento particular é um documento redigido por particulares.
- III.2. O instrumento público é redigido no Tabelionato de Notas, por funcionário oficial que goza de fé pública. É redigido e assinado em três vias: o original fica guardado no livro do Tabelionato, e o que é corriqueiramente conhecido como “escritura pública”, entregue ao interessado, nada mais é do que uma Certidão.
- III.2.1. Diferença entre tabelionato e cartório: o tabelião dá fé pública de documentos e atos presenciados ou praticado por ele. Os cartórios têm, por outro lado, obrigação de receber processos judiciais ou não, guardar, e manter atualizada uma base de dados.
- IV. A integralização do capital por cada sócio é possível por dinheiro ou por bens (máquinas, equipamentos, veículos etc.), integralizando seu valor no capital social.
- V. A cota de cada sócio e seu modo de realiza-lo: o problema é que em alguns modelos de sociedade mercantil não existem “cotas sociais”, mas patrimônio social, em especial naquelas sociedades mercantis de pessoas.
- VI. A participação de cada sócio nos lucros e prejuízos: se os sócios respondem solidariamente pelas dívidas e obrigações da sociedade.
- VI.1. Desconsideração da personalidade jurídica: é perfeitamente cabível na hipótese de abuso de poder ou desvio de finalidade, ou seja, o enriquecimento ilícito do comerciante/administrador e intenção de prejudicar terceiros. Deve ser, em tese, um procedimento incidental para demonstrar essa ocorrência.
- Personalidade jurídica (art. 985, CC )
- I. Art. 985. O arquivamento (e não o registro) dos atos constitutivos na Junta Comercial atribui a empresa personalidade jurídica.
- I.1. Em tese, o arquivamento na Junta Comercial destina-se a eficácia “erga omnes”, a oponibilidade contra terceiros, tornar público a atividade, sede e titulares/sócios da empresa.
- I.2. Ademais, o dispositivo não estabelece qualquer sanção pela ausência de arquivamento, tornando-a uma norma não cogente.
- I.3. Em entendimento “contra legem”, encartado pelo Professor [não foi o Arthur que disse isso], é possível deduzir que a personalidade jurídica surge com o instrumento de contrato social, atribuindo o nome comercial da empresa, o que torna possível que demande e seja demandada em juízo.
- II. Prova dos contratos societários (art. 987, CC ):
- II.1. Art. 987, CC. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
- II.1.1. Crítica: existe um tipo de sociedade comercial que foge à regra do art. 987.
- II.2. Art. 991, CC . Sociedade por conta de participação. Quando duas ou mais pessoas se unem numa sociedade mercantil, sem firma.
- II.2.1. As sociedades por conta de participação são provadas judicialmente por qualquer meio em direito admitido.
- III. Presunção e existência da sociedade (art. 973, CC ): sempre se presume a existência da solidariedade.
- III.1. Em Direito Civil a solidariedade decorre somente de lei ou contrato. Em Direito Empresarial Mercantil, a solidariedade é sempre presumida, e afastada pela lei nos casos expressos.
- Regime jurídico do sócio
- I. Natureza jurídica do sócio: existem algumas teorias que visam explicar a natureza jurídica do sócio.
- I.1. Dono: é a presunção de que o sócio é o proprietário da empresa. Contudo, critica-se que o instrumento de contrato social não é forma de aquisição da propriedade.
- I.1.1. Entes personalizados: a empresa, tendo um nome atribuído a ela, personaliza-se. Questiona-se se possível haver direito de propriedade sobre um ente personalizado.
- I.1.2. Essa teoria seria melhor aplicável nas sociedades de responsabilidade limitada, mas o problema existe na sociedade por comandita simples, na qual existe um sócio que não contribuiu com capital; ou na sociedade por conta de participação, na qual existe um sócio que não consta no contrato social, embora tenha contribuído com capital.
- I.2. Sócio (contratual): é uma teoria que se concentra na relação entre os sócios. A qualidade de dono, uma pessoa física exercendo a condução da empresa, pode ser menos longa que a relação contratual em si, entre os sócios que se alteram ao longo do tempo. Ou seja, haveria maior identidade quanto à relação contratual do que quanto a identidade dos sócios.
- I.2.1. Se a sociedade é de pessoas, os direitos dos sócios em relação a sociedade serão distribuídos por cabeça. Se a sociedade for de capital, contudo, os direitos dos sócios em relação a sociedade serão distribuídos pelo capital integralizado.
- I.3. Credor: num contrato de mútuo, empresta-se dinheiro e na data combinada cobra-se a quantia emprestada e os juros. O mutuante é credor do mutuário.
- I.3.1. Quando há a obrigação de integralizar capital, é clara a semelhança da intenção de lucro com o contrato de mútuo, pois o empresário visa obter lucro em seu investimento.
- I.3.2. Daí a qualidade de credor do sócio enquanto a sociedade estiver em boas condições financeiras. Se a empresa apurar prejuízo, o sócio terá a condição de devedor em relação a sociedade.
- II. Sócio:
- II.1. Remisso: aquele que não integraliza suas cotas. Embora os outros sócios tenham liberdade de deliberar sobre a inclusão ou não deste sócio remisso à sociedade, é recomendável que o sócio remisso seja excluído.
- II.2. Dissidente: é aquele que não está alinhado com os outros sócios quanto aos objetivos da sociedade.
- II.3. Em qualquer das hipóteses acima, os sócios podem deliberar sobre a exclusão ou manutenção do sócio dissidente ou remisso em assembleia.
- III. Direitos dos sócios:
- III.1. Participação nos resultados sociais e nos lucros da sociedade, que podem ter os seguintes destinos: capitalização, retirada mensal ou distribuição entre os sócios.
- III.2. Administração da sociedade, tendo o direito de intervir na administração, escolha de gerentes, e definição de estratégias.
- III.3. Fiscalização da gerencia, podendo examinar a qualquer tempo, ou conforme estipulado no contrato social, os livros, documentos e a prestação de contas aos sócios pelo gerente.
- III.4. Direito de retirada, recebendo do patrimônio líquido da sociedade a parte equivalente a sua cota.
- IV. Propriedade dos lucros da sociedade:
- IV.1. Lucro e “pro labore”: o lucro nada mais é do que o que sobra do faturamento mensal da empresa, deduzidas todas as despesas. “Pro labore” é quantia devida ao sócio que se dedique num regime de exclusividade à atividade de administração da empresa.
- IV.2. Todos os sócios têm direito a distribuição de lucros anual e retirada mensal da empresa, mas somente quem trabalha na empresa administrando-a faz jus ao “pro labore”.
- IV.3. O “pro labore” não pode ser descontado das outras verbas devidas ao sócio administrador (distribuição de lucros e retirada mensal), salvo estipulação contratual em contrário.
- V. Exclusão do sócio: a) Mora na integralização; b) Justa causa.
- Transferência de quotas sociais
- I. Cessão a terceiros e penhora de quotas:
- I.1. Para alienação de quotas societárias, os demais sócios têm direito de preferência, devendo ser ofertado nas mesmas condições. Isso demonstra importância em razão da “afectio societatis”.
- I.1.1. Pelo mesmo motivo, o terceiro que ingressa na sociedade deve ter “affectio societatis” com os sócios preexistentes. Tudo aquilo que seria inerente a sócio, em razão dos direitos e obrigações do sócio lhe seriam negados, porque os demais não têm intenção de ser sócio.
- I.1.2. Entretanto, por ser dono, o terceiro ingressante sem “affectio societatis” teria direito somente a, por ocasião da liquidação da empresa, a percentagem correspondente a sua quota parte, mas não necessariamente por ser sócio, mas por ser dono.
- I.2. Penhora de quotas: para parte da doutrina, a penhora de quotas é impossível, porque são elementos intangíveis, abstratos.
- I.2.1. O Juiz da Execução, a pedido da exequente, pode, entretanto, determinar a penhora das quotas, registrando na Junta Comercial.
- I.2.2. Não é possível auferir, entretanto, os direitos do sócio de percepção de rendas: não pode receber “pro labore” porque não trabalha na empresa, não tem direito a participação nos lucros porque não é sócio. O magistrado que eventualmente faça tal determinação age com abuso de poder.
- I.2.3. O exequente, nesse caso, fica tal como o sócio sem “affectio societatis”.
- I.2.4. Um efeito prático viável, contudo, seria alienar as quotas para os sócios remanescentes (autofagia, art. 8º), e com o valor da alienação satisfaz-se o credor.
- II. Menores como sócios: Admite-se que menores de 18 (dezoito) anos sejam sócios. Podem ainda obrigar-se pelas atividades da empresa, desde que não haja prejuízo.
- II.1. O menor não é desonerado da responsabilidade civil, mas apenas a penal. Tanto que, a responsabilidade dos pais é subsidiaria à do menor. Como o menor, em regra, não tem bens em seu patrimônio, busca-se satisfação no dos pais.
- II.2. No caso de falência, na vigência da antiga Lei de Falência no art. 3º, estabelecia-se que o menor sofria os efeitos da falência, exceto aqueles típicos da pessoa do falido e dos crimes falimentares. Entretanto, em relação às coisas e contratos, a falência tem plenos efeitos.
- II.2.1. Atualmente, a regra aplicada ao menor falido vem do ECA, que tem a mesma redação desse dispositivo da antiga Lei de Falência.
- III. Sociedade entre cônjuges (art. 977, CC ): é vedada realização de sociedade daqueles casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória.
- III.1. Comunhão universal de bens:
- III.1.1. Isso se justifica porque as quotas sociais de um cônjuge pertencem também ao outro, em razão do regime de bens.
- III.1.2. A principal característica da meação é de que os bens (do casal) são indivisíveis, pertencendo, simultaneamente, a ambos. Assim, prejudica-se eventual credor da pessoa do sócio/cônjuge.
- III.1.3. Tanto é assim porque na hipótese de divórcio, promove-se a partilha judicial dos bens.
- III.1.4. Assim, na hipótese de penhora, deve-se reservar a meação do cônjuge, desde que não tenha havido proveito pela dívida. Caso não seja assim, seria possível embargos de terceiro.
- III.1.5. Por outro lado, se houver uma sociedade entre A e B, e B é casado com C pelo regime de comunhão universal de bens, C também é dona das quotas sociais de B, mas não é sócia.
- IV. Aquisição de quotas pela sociedade (art. 1052 e seguintes do Código Civil): na empresa de responsabilidade limitada não podem existir quotas sem pessoas titulares ou pessoas sem titularidade de qualquer quota. Se isto ocorrer, o capital é mantido, e ocorre o fenômeno da autofagia.
- IV.1. Autofagia (art. 8º, Dec. 3708/19 ): é a absorção das quotas “liberadas” (sem titular) pelos sócios remanescentes. Em termos procedimentais, os sócios remanescentes devem consignar em pagamento (do próprio bolso, sem retirar do caixa da empresa) as quotas do titular anterior, e então formalizando a alteração contratual.
- IV.2. Ainda que existam quotas “liberadas”, não ocorre autofagia se:
- IV.2.1. Os sócios remanescentes admitem outro sócio atribuindo-lhe a titularidade destas.
- IV.2.2. Os sócios remanescentes reduzem o capital social limitando-o a soma de suas respectivas quotas.
- IV.2.3. Em qualquer caso, é devida indenização do sócio retirante.
- Sociedades em espécie
- I. Sociedade em nome coletivo (art. 1039, CC )
- I.1. Conceito: é uma sociedade mercantil de pessoas, e não de capitais (S/A e Ltda).
- I.1.1. Somente pessoas naturais podem integrar o quadro social. Não se admitem pessoas jurídicas na condição de sócio.
- I.1.2. Funcionamento: por ser uma sociedade mercantil de pessoas, os votos de cada sócio têm o mesmo peso (é por cabeça), não se levando em a contribuição de um.
- I.1.3. Os sócios não têm quotas sociais, mas patrimônio social.
- I.1.4. A responsabilidade é ilimitada em relação a terceiros e entre sócios. Todos são solidários por tudo.
- I.1.4.1. Obs.: nas LTDAs, a responsabilidade é ilimitada perante terceiros, mas limitada entre sócios.
- I.2. Nome comercial:
- I.2.1. Patronímico dos sócios + “em nome coletivo”: A, B e C em nome coletivo; ou
- I.2.2. Patronímico de um dos sócios + “& Cia”: A & Cia;
- I.3. Administração: exercida em comum e simultaneamente.
- I.4. Características: a principal característica é a responsabilidade ilimitada dos sócios em relação a terceiros e dos sócios entre eles mesmos, sendo certo que esta responsabilidade é subsidiaria, uma vez que os bens do patrimônio particular dos sócios só serão executados após os bens da sociedade, e se tiver ocorrido abuso de poder e desvio de finalidade (desconsideração da personalidade jurídica)
- II. Sociedade em comandita (art. 1045, CC ):
- II.1. Conceito e definição:
- II.1.1. Quadro social:
- I.1.1.1. Sócio capitalista ou comanditário: não solidário pelas obrigações da empresa. É obrigado a investir capital. Não pode ser alcançado pelas dívidas sociais da empresa (blindagem legal do sócio comanditário).
- I.1.1.1.1. Mesmo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não alcança o patrimônio do sócio comanditário, independente da natureza da dívida.
- I.1.1.2. Sócio não capitalista ou comanditado: solidário pelas obrigações da empresa. Investe-se nos atos de administração e gerência. Não é obrigado a investir capital.
- II.2. Nome comercial:
- II.2.1. O sócio capitalista não pode emprestar seu patronímico ao nome da empresa, sob pena de vincular-se às obrigações da empresa solidariamente.
- II.2.2. Ex.: José Costa & Cia em comandita.
- II.3. Administração: em regra, sempre realizada pelo sócio comanditário.
- II.3.1. O sócio capitalista também não pode exercer atos de gerencia da empresa.
- II.3.1.1. Se o sócio capitalista praticar algum ato de gerência, e este cause prejuízos, ele responderá solidariamente em relação a este ato.
- II.3.1.2. Ex.: demissão de um funcionário e posteriormente este ingressa com reclamação trabalhista.
- II.3.2. Em sentido amplo, administração, gerência e execução são sinônimos.
- II.3.3. Em sentido estrito, o sócio comanditário comanda (define os rumos da empresa), administra, mas não executa tais atos.
- II.4. Características: é sociedade bifronte, isto é, existem duas espécies de sócios. Uns com responsabilidade ilimitada, que gerenciam a sociedade e são denominados sócios comanditados, e outros com responsabilidade limitada à integralização do capital por eles realizada.
- II.4.1. O nome dos sócios comanditários não pode integrar a firma ou razão social sob pena de se tornarem solidários.
- II.4.2. A gerência será exercida por um ou mais sócios de responsabilidade ilimitada, ou seja, comanditados.
- II.4.3. Podem integrar a sociedade em comandita comerciantes e não comerciantes, inclusive os impedidos de comerciar, na qualidade de sócios comanditários, com responsabilidade limitada ao limite da quota subscrita e integralizada.
- III. Sociedade em conta de participação (art. 991, CC, já transcrito acima):
- III.1. Conceito: duas ou mais pessoas atuam com fins comerciais, sem firma, não se exigindo sequer contrato escrito. Basta o aporte de capital do sócio participante ao sócio ostensivo.
- III.1.1. Quadro social:
- III.1.1.1. Sócio ostensivo: responsabiliza-se perante terceiros pelas obrigações da empresa.
- III.1.1.2. Sócios participantes: obrigam-se pessoalmente perante o sócio ostensivo.
- III.2. Nome comercial: não possui.
- III.3. Administração: cabe ao sócio ostensivo.
- III.4. Pacto em separado (art. 997, parágrafo único, CC, já transcrito): é um “contrato de gaveta” realizado entre os sócios. Este pacto em separado só produz efeitos entre as partes que o assinaram, tendo em vista que não foi registrado na Junta Comercial (não há oponibilidade contra terceiros).
- III.4.1. Aplicação na sociedade em conta de participação (art. 992, CC, já transcrito): não é essencial à constituição da sociedade em conta de participação a formalização de um instrumento de contrato, principalmente porque esta sociedade não possui firma.
- III.4.2. Assim, mesmo que exista um instrumento de contrato, este é invalido. É característico que o contrato seja verbal.
- III.4.3. A comprovação da existência desse tipo de sociedade é feita por todos os meios em direito admitidos. Ex.: depoimentos de funcionários que trabalham com o sócio participante, aparições públicas do sócio participante com a sociedade etc.
- III.4.4. A única formalidade exigida tem natureza fiscal: na declaração de imposto de renda do sócio ostensivo, a DIRPJ deve constar o aporte de capital nos termos do art. 997, CC. Da mesma forma, na DIRPF do sócio participante.
- III.5. Falência (Lei 11.101/2005):
- III.5.1. A lei de falências se aplica ao empresário e a sociedade empresária.
- III.5.2. Não é possível a quebra da sociedade em conta de participação, pois não tem firma ou personalidade.
- III.5.3. Mas a falência se for decretada em relação aos negócios realizados pela sociedade, recairão diretamente sob o sócio ostensivo, e possivelmente sob o sócio participante, se ficar comprovada sua condição de comerciante.
- III.5.4. Obs.: a PJ é um número de controle fiscal (CNPJ). A sociedade empresária são os empresários.
- III.6. Características: não existe firma, um nome social pela qual essa sociedade pode ser conhecida.
- III.6.1. O sócio ostensivo se responsabiliza perante terceiros, mas o sócio participante somente se responsabiliza perante o sócio ostensivo.
- Alteração nas sociedades
- I. Transformação (art. 220, Lei 6404/76 ):
- I.1. Introdução: embora na prática seja comum proceder a baixa da empresa inicial para abrir uma nova, no modelo desejado, isso implica que o empresário deva assumir as dívidas da PJ em seu nome para extinção da primeira. A transformação é um instituto mais simples.
- I.2. Para a transformação da Empresa Individual para uma Sociedade Empresária: basta uma ata contendo algumas cláusulas com o sócio ingressante, quotas sociais, capital social, nome etc.
- I.3. Empresa Limitada para Sociedade Anônima: basta a reunião em assembleia, a aprovação de um estatuto e seu registro.
- II. Incorporação (art. 227, Lei 6404/76 ): a empresa incorporadora assume todos os direitos e obrigações da empresa incorporada.
- II.1. A personalidade da empresa incorporadora subsiste.
- II.2. Os credores devem ser convocados para participar dessa assembleia.
- III. Fusão (art. 228, Lei 6404/76 ): deixam de existir as empresas fundidas, e passa a existir uma nova empresa.
- III.1. As empresas fundidas deixam todas de existir. Surge uma nova personalidade.
- III.2. Nesse caso é fundamental que sejam realizadas assembleias em todas as sociedades a serem fundidas, com resultado favorável para sua extinção e fusão para uma nova empresa.
- III.3. Os credores devem ser convocados para participar dessa assembleia, para que possam votar.
- IV. Cisão (art. 229, Lei 6404/76 ): uma empresa que deseja se desconstituir em outras duas, cindindo (dividindo) direitos e obrigações.
- IV.1. É razoável que se convoque os credores para participar da cisão, pois seus créditos serão divididos entre as empresas cindidas. Assim, o credor só poderá cobra-lo daquela empresa cindida que ficou com o crédito.
- IV.2. Caso os credores não sejam convocados, poderão cobrar os créditos de qualquer das cindidas.
- V. Cissiparidade (art. 233, parágrafo único, Lei 6404/76 ): é a possibilidade de separação dos ativos e passivos de um capital social, vendendo os ativos separadamente, permanecendo os passivos para administração.
- V.1. É o que ocorreu com o Banestado.
- VI. Obs.: Monopólio - em fusões e incorporações, se a empresa fundida ou incorporadora resultar com domínio de mais de 30% do mercado, considera-se um monopólio. Nesse caso, será necessário a intervenção do CADE, que pode autoriza-lo ou desmantela-lo.
- COOPERATIVAS
- Definição: arts. 1.093 a 1.096, CC e Lei n. 5764/71
- Breve histórico: “as cooperativas são a única modalidade de empresa no sistema comunista”.
- I. As cooperativas surgiram no Direito Internacional, no mesmo contexto histórico do surgimento do socialismo.
- II. Cooperativas não são sociedades, mas entes associativos.
- II.1. Para contextualizar, são entes associativos:
- II.1.1. Sociedades mercantis
- II.1.2. “Holdings”
- II.1.3. “Joint ventures” (negócios)
- II.1.4. Consórcios
- II.1.5. Associações cooperativas (civil)
- Doze virtudes, em síntese:
- I. Viver melhor através da solução coletiva dos problemas;
- II. Pagar a dinheiro, evita o hábito que causa endividamento;
- III. Poupar sem sofrimento: a satisfação das necessidades dos cooperados deve ser prioritária;
- IV. Suprimir os parasitas: afastar os atravessadores na compra e venda de produtos e serviços;
- V. Combater o alcoolismo: evitar os vícios e saúde;
- VI. Integrar as mulheres nas relações sociais;
- VII. Educar economicamente o povo;
- VIII. Reconstituir uma propriedade coletiva: para ter acesso a propriedade o primeiro passo é investir;
- IX. Estabelecer o justo preço;
- X. Facilitar a todos o acesso a propriedade;
- XI. Eliminar o grupo capitalista: o objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas;
- XII. Abolir os conflitos.
- Princípios cooperativos: inspiraram a criação da Lei 5764/71 no Brasil.
- I. Adesão livre: são de adesão livre em razão da natureza das pessoas, ou da função desempenhada.
- I.1. De classe ou categoria: a exemplo da Cocamar, em que a adesão é livre, mas somente para rurícolas. Também da UNIMED, em que a adesão também é livre, mas só para médicos.
- I.2. De livre acesso: qualquer um poder participar. A exemplo das cooperativas de crédito.
- II. Singularidade do voto: “cada homem um voto”. Independente da joia (contribuição) de cada cooperado, o valor do voto é o mesmo.
- II.1. A tendência aqui é o capital servir as pessoas, não o contrário.
- III. Controle democrático: todas as decisões das cooperativas são tomadas pela maioria. São discutidas em audiências públicas, em assembleias.
- III.1. Crítica: as cooperativas são compostas, em regra, por pessoas incultas, ficando suscetíveis à massa de manobra de seus dirigentes.
- IV. Neutralidade: as cooperativas não podem impor qualquer restrição à associação em razão de raça, cor, sexo etc.
- IV.1. A única restrição admissível é em relação aos concorrentes no mesmo ramo do mercado.
- V. Retorno das solas: são figuras similares ao lucro.
- V.1. Nas sociedades mercantis é distribuído o lucro conforme a quota social, o número de ações, ou disposição contratual.
- V.2. A cooperativa, após todas suas operações, o excedente será distribuído entre os cooperados na proporção dos negócios realizados por estes, por intermédio da cooperativa.
- V.3. É diferente do que ocorre no princípio da singularidade de voto, que prega a igualdade de voto.
- VI. Educação permanente: é função da cooperativa educar sobre técnicas de interesse dos cooperados e suas famílias.
- VII. Cooperação intercooperativa: é uma característica inerente, de cooperação em âmbito inclusive internacional entre cooperativas.
- VIII. Obs.: As cooperativas são organizadas em Federações, Confederações e Cooperativas Singulares.
- Cooperativas e sociedades mercantis
- I. Problemas no Código Civil: o Código Civil tende a confundir alguns institutos das sociedades e das cooperativas.
- I.1. “Sociedade cooperativa”: é uma expressão tecnicamente errada. A sociedade é de capital, tem organização hierárquica, voto proporcional as quotas, etc. As cooperativas são humanitárias, tem organização democrática, voto por cabeça, etc.
- I.2. Caso do art. 1094, I, III e IV, CC.
- I.2.1. “O ingresso com capital social pode ser dispensado”: cooperativas não têm capital social, mas patrimônio social. Quer dizer que os cooperados não fazem aporte de capital, mas tecnicamente “joia para ingresso”. Assim, o inciso I não é aplicável as cooperativas.
- I.2.2. No inciso III, mas uma vez o Código fala de capital social. O valor da joia para ingresso é definido pelo Conselho de admissão de novos cooperados.
- I.2.2.1. O patrimônio da cooperativa depende exclusivamente de sua produção, não tendo qualquer efeito as joias de contribuição nele.
- I.2.3. O inciso IV trata de duas hipóteses:
- I.2.4. Não existem quotas sociais. A joia para ingresso não é quota de capital. Portanto, é absolutamente inviável tanto a cessão como a herança.
- I.3. Caso do art. 1095, §2º, CC.
- I.3.1. Despersonalização: em sociedades mercantis, basta verificar quem são os sócios com diligencia na JUCEPAR. Contudo, em cooperativas, não consta no estatuto o rol de cooperados. Ainda que se obtenha a lista de cooperados, estes não podem ser responsabilizados porque não são sócios.
- I.3.2. A única possibilidade nesse sentido é a responsabilização do diretor, do presidente etc., nos termos do art. 149 a 155 da Lei das Sociedades Anônimas, em razão de sua culpa.
- I.3.3. O patrimônio da cooperativa não se altera com as joias dos cooperados, mas somente com a apuração do balanço no fim do ano fiscal.
- Natureza jurídica: a cooperativa é registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
- I. Civil: porque não tem natureza mercantil, inobstante o caráter econômico, não tem finalidade capitalista.
- II. Associativa: a cooperativa ocorre em razão de uma debilidade comum das pessoas.
- III. Fomentaria: incentivar a evolução pessoal dos cooperados.
- III.1. Econômica
- III.2. Educacional
- III.3. Tecnológica: as cooperativas têm acesso as novas tecnologias, por serem bastante técnicas.
- IV. Social: troca de informações e socialização, entre pessoas integradas com os mesmos objetivos.
- Atos cooperativos e atos não cooperativos (art. 85, 86 e 88 da Lei 5764/71):
- I. Todos os atos de caráter mercantil, mas realizados entre cooperativa e cooperado, são considerados atos cooperativos, perdendo o seu caráter comercial. Assim, os atos cooperativos, ainda que com todos os aspectos formais, não são atos de comércio.
- II. Atos entre cooperativas diferentes também são considerados atos cooperados.
- III. A lei exclui dos atos cooperados os atos realizados entre cooperados, sem relação com a cooperativa.
- LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (LEI N. 6404/76)
- Aumento de capital (art. 166 , 169 , 170 , Lei de Sociedade Anônima)
- I. Para correção da expedição monetária: aplicação dos percentuais monetários, conforme inflação ou deflação.
- I.1. Espera-se que as empresas estabeleçam metas de produção, com crescimento mínimo de 1,2% ao mês.
- I.2. Finalidade fiscal: a correção monetária do capital.
- II. Capitalização de lucros e reservas
- II.1. Reservas obrigatórias: no máximo 5% sobre o capital liquido da empresa. Pertence a empresa, e não aos acionistas.
- II.2. O fundo de reserva pertence ao caixa da empresa. Se esse valor for empregado para abrir novas ações, estas necessariamente pertencerão à empresa.
- II.3. Lucro: podem ser convertidas em ações da empresa, simplesmente.
- III. Aumento por subscrição pública ou particular
- III.1. Pública: quando o capital arrecadado para aquisição ou aumento de capital é obtido junto a bancos, públicos ou particulares.
- III.2. Particular: quando o capital arrecadado para aumento de capital não é tomado junto a bancos. É o caso de capitalização tanto de lucros quanto de reservas.
- Redução de capital (art. 173 , 177 , LSA):
- I. Perda de patrimônio
- II. Prejuízo: remitente, insistente e grave. Entende-se por “grave” o prejuízo maior que 25% do faturamento anual da empresa.
- II.1. Finalidade de reduzir as despesas fiscais.
- II.2. Não se pode admitir, na ata de assembleia, que a empresa está em prejuízo.
- III. Valor excessivo das ações: não se pode confundir o valor integralizado e subscrito no ato constitutivo da empresa com o preço da empresa. Entretanto, admite-se, para finalidades fiscais, ajustar a primeira à segunda.
- IV. Quando não integralizadas as cotas.
- Ações
- I. Natureza jurídica: tríplice. Representam uma unidade de capital, um direito de participação societária, e representa ainda um título de crédito corporativo.
- I.1. São sócios:
- I.1.1. Sociedade limitada: pessoa + capital, registro na junta comercial.
- I.1.2. Sociedade anônima:
- I.1.2.1. Primeiro, os sócios acionistas fundam a empresa, registrando o ato constitutivo e ficando com 50% + 1 das ações.
- I.1.2.2. Num segundo momento, as ações em circulação, em bolsa ou em balcão, basta a simples posse para atribuir a qualidade de dono (ao portador). Independe de qualquer registro.
- I.1.2.3. As ações emitidas até R$ 178,00 podem ser “ao portador”.
- II. Com valor nominal (art. 11, § 3º, LSA ): é o valor de face.
- III. Sem valor nominal (art. 14, LSA ): o seu valor será estabelecido na ata da assembleia que autorizou a criação desses títulos. Não altera em nada a negociação.
- IV. Ordinárias (art. 16, LSA ) e preferenciais (art. 17 , LSA)
- IV.1. São direitos básicos dos sócios acionistas: distribuição de dividendos e reembolso de capital.
- IV.2. Os portadores das ações ordinárias têm direito a voto nas assembleias, escolhas de diretores etc.
- IV.3. Os portadores das ações preferenciais têm direito a debêntures.
- IV.3.1. A debênture recebe a mesma valorização que as ações da empresa que a emitiu, também pode ser negociada em bolsa, endossada etc.
- V. Nominativas, escriturais, de gozo ou fruição:
- V.1. Nominativas: possuem o nome do proprietário. São as emitidas acima de R$ 178,00 e aquelas emitidas na fundação da empresa.
- V.2. Escriturais: a ação escritural é emitida pela empresa de custódia, na qual se depositam as ações.
- V.3. De gozo ou fruição: são aquelas entregues a proprietários antigos, sócios fundadores, que participaram da fundação da empresa. São ações convertidas de ações normais, para “aposentar” os proprietários antigos.
- V.4. Quando falece o proprietário, as ações de gozo ou fruição perdem essa natureza, convertendo-se de volta em ações normais, não contemplando herdeiros no gozo ou fruição.
- Partes beneficiárias (art. 46, LSA ): são títulos emitidos em até 10% dos lucros esperados, sendo um crédito de caráter eventual, justamente pela possível variação da lucratividade real.
- I. Podem-se emitir partes beneficiarias em até 10% do lucro anual esperado, até 31 de outubro do ano.
- II. Não têm valor de face.
- III. As partes beneficiárias são resgatáveis logo após o final do ano fiscal correspondente, junto ao caixa da empresa. São utilizadas para pagar credores da sociedade, como fornecedores.
- IV. Se o lucro real apurado for diferente ao lucro esperado (sob a qual a parte beneficiaria foi expedida), o resgate da parte beneficiaria será com base no primeiro, de maneira proporcional.
- V. Ex.: Se o lucro esperado era de 1 milhão, emitiu parte beneficiaria de R$ 10.000,00 para pagamento do fornecedor. Entretanto, se o lucro real apurado for de 2 milhões, o fornecedor terá direito a resgatar R$ 20.000,00.
- Debentures (art. 52, LSA ): são títulos de crédito.
- I. A LSA determina que 25% do lucro apurado no final do exercício devem ser distribuídos, obrigatoriamente, a título de dividendos, entre os acionistas.
- II. Entretanto, se isso for feito à vista e em dinheiro, representa um risco de quebrar o caixa da S.A.
- III. Por esse motivo, os dividendos são distribuídos em debentures, normalmente a prazo, que por terem a mesma valorização que as ações da empresa, não costumam ser imediatamente resgatados pelos debenturistas.
- Bônus de subscrição (art. 75, LSA ): também é um título, oferecido aos acionistas, para ter direito de preferência na subscrição de ações a serem emitidas no futuro, mas pelo valor de face (e não de mercado).
- I. Os acionistas têm preferência na aquisição dos bônus de subscrição.
- Responsabilidade dos administradores
- I. “Disclosure” ou “inside trading” (art. 153, LSA ): é quando o administrador ou dirigente tem informações privilegiadas, e as utilizam (vazam) em beneficio seu ou de outros.
- II. Dever de lealdade (art. 155, LSA ) e de informar (art. 157, LSA ): todas as informações relevantes sobre a sociedade anônima devem ser tornadas públicas.
Add Comment
Please, Sign In to add comment